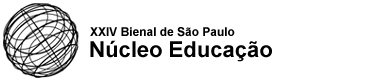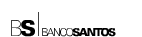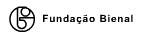|
| |
| |
Como?
(Quando? Onde?)
De diferentes maneiras o educador poderž propor e encaminhar atividades
para alcançar os objetivos acima descritos. Algumas sugest§es que poderâo
ajudž-lo a organizar sua açâo serâo aqui fornecidas, sempre deixando claro
que o educador pode e deve criar novas formas de intervençâo sempre que
julgar necessžrio e enriquecedor para a educaçâo visual de seus alunos.
|
| |
|
1.
Educação visual
Segundo Dëcio Pignatari, "os problemas visuais de Volpi e dos
concretistas sâo comuns - principalmente os da estrutura dinémica
-; ainda que os meios de ataque Ç realizaçâo da obra sejam diversos,
Volpi se atem a meios mais artesanais. Por outro lado, Volpi ignora
o que sejam, teoricamente, 'gestalt', 'topologia' e coisas que tais:
esse fato constitui um excelente elemento para a comprovaçâo da
teoria da pura visualidade - um dos princìpios que informam o movimento
Concretista. Mas nem por isso ë Volpi um primitivo, um ingènuo ou
um equivocadamente influenciado: sua educaçâo e cultura visuais,
sua capacidade de rigor na organizaçâo de formas - olho crìtico
- fazem de Volpi um dos artistas mais conscientes e conseqÆentes
na evoluçâo formal da pr�pria obra" (Projeto Construtivo Brasileiro
na Arte). Walter Zanini comenta ser "�bvio que o endereçamento da
obra deste pintor para uma abstratizaçâo crescente, na dëcada de
50, deve-se ao ambiente definido sobretudo a partir da I Bienal.
Entretanto, os fatores puramente plžsticos, que agiram na determinaçâo
de sua pintura, obedeceram ao menos em proporçâo igual Ç l�gica
evoluçâo interior da linguagem".
|
|
| |
| Percurso
de leitura
Em relação
às sugestões de leitura das obras de arte descritas nesse
material, elas foram elaboradas de forma a respeitar a faixa etária
de cada grupo de crianças, isto é, suas possibilidades singulares,
de acordo com o grau de desenvolvimento. Para isso, as atividades de leitura
foram divididas em dois segmentos: o primeiro engloba crianças
de cinco a sete anos e, o segundo, de oito a dez anos.
 Vale ressaltar,
entretanto, que esse documento considera que a divisão de atividades
em faixas etárias é, de certa forma, relativa. É
fato conhecido que as crianças que trabalharam desde cedo em atividades
com leituras visuais dispõem de um vocabulário visual
mais amplo e, freqüentemente, têm maiores possibilidades associativas.
Assim, conseguem com mais facilidade aprofundar relações
significativas do que aquelas que raramente foram motivadas para isso. Vale ressaltar,
entretanto, que esse documento considera que a divisão de atividades
em faixas etárias é, de certa forma, relativa. É
fato conhecido que as crianças que trabalharam desde cedo em atividades
com leituras visuais dispõem de um vocabulário visual
mais amplo e, freqüentemente, têm maiores possibilidades associativas.
Assim, conseguem com mais facilidade aprofundar relações
significativas do que aquelas que raramente foram motivadas para isso.
|
| |
|
2.
Vocabulário visual
Na
dëcada de 30, quando pintava quadros de espìrito popular, Volpi
participou do Grupo Santa Helena, integrado por artistas de origens
e objetivos semelhantes aos dele, como Fölvio Pennacchi e
Francisco Rebolo Gonzales. Verificam-se entâo mudanças no
trabalho do pintor. Segundo Olìvio Tavares de Araöjo, "ë na pintura
volpiana dessa ëpoca que aparecem (...) evidente dinamismo na pincelada,
maior liberdade gestual, valorizaçâo das especificidades pict�ricas,
cor, textura e matëria". Aracy Amaral, curadora do artista nesta
Bienal, comenta que "a partir do final dos anos 50 percebe-se em
Volpi o refluir para um gestualismo visìvel, em que persiste a reduçâo
cromžtica deliberada, mantendo a economia tonal e de elementos,
porëm agora com composiç§es em que nos surpreende a audžcia no domìnio
da forma sobre o espaço. (...) A partir dos anos 60 dir-se-ia que
Volpi organiza suas composiç§es trabalhando sobre o espaço e nâo
mais, como antes dos anos 50, a partir dos referenciais do mundo
real. Assim, elementos de seu vocabulžrio de sempre - bandeirinhas,
arcos de portas, bandeiras de portas, janelas, portas, em particular
- passam a ser pretextos/motivos incansavelmente retrabalhados".
|
|
 |
| Fúlvio
Pennacchi
(Villa Collemandina, Itžlia, 1905 - Sâo Paulo, SP, 1992): ap�s estudar
na Academia Real de Lucca, na Itžlia, este pintor veio para Sâo Paulo
em 1929. Integrou o Grupo Santa Helena, trabalhando com Rebolo a partir
de 1936. Era pintor de paisagens, tipos populares e cenas religiosas.
|
|
 |
| Francisco
Rebolo Gonzales
(Sâo Paulo, SP, 1902 - 1980): foi o primeiro dos artistas do Grupo
Santa Helena a fixar-se no edifìcio com o mesmo nome por volta de
1934. Inicialmente empreiteiro de pinturas em prëdios e decorador,
tornou-se pintor, retratando as cenas e as pessoas de Sâo Paulo. |
|
| |
Educação
infantil
As crianças
geralmente não se preocupam em compreender a pintura como um
texto lógico e repleto de significados. Sua atenção
está sobretudo direcionada para a busca e detecção
de elementos figurativos ou abstratos da pintura. Se o educador sugerir
que elas façam uma narrativa sobre aquilo que vêem, certamente
elas construirão uma história baseada primordialmente
em seus próprios interesses e desejos. Essas leituras visuais
individualizadas poderão tornar-se mais socializadas se o educador
criar oportunidades para que todos os integrantes do grupo possam manifestar
suas impressões e trocar informações entre si,
alargando, assim, a gama de elementos visuais detectados na obra de
arte, bem como o contato entre as crianças.
 Para essa faixa
etária, dois momentos do processo de leitura podem ser trabalhados:
1) deixar que as crianças olhem livremente o objeto artístico
escolhido; 2) criar condições para que cada criança
possa verbalizar suas observações com o respeito e a atenção
de todos, provocando a troca de informações e idéias
entre elas. Para isso, o educador poderá animar a conversa lançando
questões do tipo: "Por que tem tanta cor vermelha?",
"Onde tem azul nessa pintura?", "Como seria passear nesse
lugar?", "O que está acontecendo?" etc. Enfim,
caberá ao educador despertar a curiosidade infantil e criar momentos
de troca entre os integrantes do grupo, sempre tendo em mente que, nesse
âmbito da criação, não existem respostas
únicas, certas ou erradas, mas sensibilidade e diferentes possibilidades
de observação e verbalização. Informações
sobre o artista podem ainda ser fornecidas. Para essa faixa
etária, dois momentos do processo de leitura podem ser trabalhados:
1) deixar que as crianças olhem livremente o objeto artístico
escolhido; 2) criar condições para que cada criança
possa verbalizar suas observações com o respeito e a atenção
de todos, provocando a troca de informações e idéias
entre elas. Para isso, o educador poderá animar a conversa lançando
questões do tipo: "Por que tem tanta cor vermelha?",
"Onde tem azul nessa pintura?", "Como seria passear nesse
lugar?", "O que está acontecendo?" etc. Enfim,
caberá ao educador despertar a curiosidade infantil e criar momentos
de troca entre os integrantes do grupo, sempre tendo em mente que, nesse
âmbito da criação, não existem respostas
únicas, certas ou erradas, mas sensibilidade e diferentes possibilidades
de observação e verbalização. Informações
sobre o artista podem ainda ser fornecidas.
Ensino fundamental
Já as crianças
do ensino fundamental costumam valorizar, na leitura de imagens, os
temas abordados pelo artista e estabelecer relações com
conceitos tais como beleza e realismo, por exemplo. Os processos associativos
e os narrativos sobre as pinturas são mais elaborados nessa fase
e o educador poderá, ao fim da leitura, enriquecer a análise
fornecendo também informações sobre a vida e a
obra do artista focado.
 Os passos que
precisam ser percorridos nesse segundo grupo englobam, além do
olhar e do narrar, o descrever e o interpretar; isto é, as crianças
são convidadas a destacar do texto visual aquilo que seus olhos
observam - as linhas, as formas, as cores e as figuras -, mas
também são chamadas a "voar mais alto" à
medida que são motivadas a tecer interpretações
sobre o que está sendo observado, de forma livre. Importa aqui
o aprofundamento do processo associativo e dissociativo na elaboração
de significados. O educador poderá conduzir as análises
com questões como: "Mostre na imagem onde você vê
isso que você está dizendo", "O que faz você
pensar assim?" etc. Também será interessante propor
diferentes trabalhos plásticos a partir dessas experiências
visuais. Isso não quer dizer que as crianças devam copiar
a obra do artista ou tratá-la como um mero problema de geometria,
mas criar novas composições, elaboradas a partir dos conteúdos
ou fragmentos das obras trabalhadas significativamente e de suas próprias
idéias, unindo geometria e poesia. Os passos que
precisam ser percorridos nesse segundo grupo englobam, além do
olhar e do narrar, o descrever e o interpretar; isto é, as crianças
são convidadas a destacar do texto visual aquilo que seus olhos
observam - as linhas, as formas, as cores e as figuras -, mas
também são chamadas a "voar mais alto" à
medida que são motivadas a tecer interpretações
sobre o que está sendo observado, de forma livre. Importa aqui
o aprofundamento do processo associativo e dissociativo na elaboração
de significados. O educador poderá conduzir as análises
com questões como: "Mostre na imagem onde você vê
isso que você está dizendo", "O que faz você
pensar assim?" etc. Também será interessante propor
diferentes trabalhos plásticos a partir dessas experiências
visuais. Isso não quer dizer que as crianças devam copiar
a obra do artista ou tratá-la como um mero problema de geometria,
mas criar novas composições, elaboradas a partir dos conteúdos
ou fragmentos das obras trabalhadas significativamente e de suas próprias
idéias, unindo geometria e poesia.
|
| |
|
3.
As linhas, as formas, as cores e as figuras
Na fase de maturidade do pintor, ele transporta para o ateliè
as fachadas dos casarios, reorganizando-as em composiç§es com reténgulos,
quadrados, triéngulos etc. Ï por isso que, embora seja popularmente
conhecido como o pintor de bandeirinhas, Volpi sempre afirmou: "Nâo
pinto bandeirinhas". O que esse artista pinta sâo composiç§es geomëtricas
cheias de linhas, formas e cores, construìdas a partir de m�dulos
e composiç§es ritmadas em que o assunto ë o pr�prio jogo plžstico.
Em entrevista a Sheila Leiner, Volpi declara: "Quando comecei a
pintar, nem conhecia os impressionistas e peguei os mesmos problemas
deles. Foi a natureza que me indicou isso. Quando se abandona a
natureza ë que começa o expressionismo. De dentro para fora.
Depois isso se transforma. A gente se desliga e entâo s� passa a
existir o problema da linha, forma e cor. O assunto desaparece.
Some a paisagem, some tudo. Minhas bandeirinhas nâo sâo bandeirinhas;
sâo s� o problema das bandeirinhas. Problema de toda uma construçâo
para resolver em pintura, as cores".
|
|
 |
| Expressionismo:
Volpi usa aqui este termo em seu sentido mais genërico, de acentuaçâo
do caržter expressivo na arte, e nâo como referència ao movimento
artìstico europeu com o mesmo nome. |
|
| |
|
4.
Geometria e poesia
No
inìcio da carreira, os temas da pintura de Volpi sâo a paisagem
que circunda a capital paulista e depois a da cidade de Itanhaëm,
onde vai morar por algum tempo na companhia de Judite, sua esposa,
que por motivos de saöde ë aconselhada a viver Ç beira-mar. Nessa
primeira fase de produçâo das pinturas, seus trabalhos sâo figurativos
de uma sensibilidade requintada, usa telas de pequenos formatos,
cores suaves, pinceladas curtas. Na dëcada de 40, Volpi passa da
pintura ao ar livre para a pintura no ateliè. Na sërie de casas
que produz a partir da metade desta dëcada, distribui os planos
na tela sem nenhuma preocupaçâo com as estruturas da perspectiva,
reduzindo e simplificando os elementos da composiçâo. O pintor vai
gradualmente transformando as portas e janelas em incis§es retangulares,
e os telhados em reténgulos recortados e apoiados numa arquitetura
de construç§es ritmadas. Uma nova fase, caracterizada pela radicalizaçâo
da geometria, terž entâo inìcio e serž conhecida como a fase de
afinidade concretista, a fase das composiç§es abstratas.
|
|
 |
| Abstratas:
referem-se
Çs obras dos artistas que, a partir do inìcio do sëculo XX, se dedicaram,
seguindo diversos caminhos, Ç criaçâo de obras de arte por meio da
articulaçâo dos elementos visuais, abandonando a tradiçâo ocidental
de representaçâo figurativa da realidade. |
|
| |
Percebendo elementos
das linguagens visuais
Sugere-se que o
educador comece sua atividade ainda sem ter mostrado à classe
a imagem da obra de Volpi por inteiro, propondo inicialmente aos alunos
a observação e a exploração de cada um dos
fragmentos da imagem selecionada (fragmentos estes que devem ser destacados
da duplicata da imagem, distribuída junto com a imagem de apoio).
Assim, as crianças serão levadas a perceber formas, linhas,
cores, marcas de pincéis, materialidades e tamanhos dos diferentes
fragmentos apresentados.
 Continuando o
trabalho com os fragmentos da imagem selecionada, o educador poderá
distribuí-los às crianças propondo que elas criem,
em grupo, diferentes composições com eles. Tendo em vista
que até esse momento as crianças desconhecem a imagem
do artista (ou pelo menos aquela que foi escolhida para o exercício),
elas terão a liberdade de criar inúmeros trabalhos seguindo
sua imaginação e criatividade. Feito isso, a imagem da
pintura de Volpi será apresentada às crianças,
que serão convidadas a manifestar verbalmente suas impressões
sobre ela, bem como a estabelecer relações entre esta
e as composições que acabaram de ser realizadas. Esse
exercício de associar, comparar e relacionar formas e cores,
buscando encontrá-las na reprodução da imagem do
artista, possibilitará um aprofundamento do olhar sobre a obra
apresentada, como também da leitura dos diferentes elementos
visuais presentes na pintura. Esse trabalho poderá ainda ser
enriquecido com informações sobre a vida do artista
e de suas demais obras, com dados históricos interessantes e
acessíveis ao mundo infantil, com a discussão da importância
da visita às bienais (e a todo tipo de exposição)
onde são encontradas as obras originais dos artistas etc. Continuando o
trabalho com os fragmentos da imagem selecionada, o educador poderá
distribuí-los às crianças propondo que elas criem,
em grupo, diferentes composições com eles. Tendo em vista
que até esse momento as crianças desconhecem a imagem
do artista (ou pelo menos aquela que foi escolhida para o exercício),
elas terão a liberdade de criar inúmeros trabalhos seguindo
sua imaginação e criatividade. Feito isso, a imagem da
pintura de Volpi será apresentada às crianças,
que serão convidadas a manifestar verbalmente suas impressões
sobre ela, bem como a estabelecer relações entre esta
e as composições que acabaram de ser realizadas. Esse
exercício de associar, comparar e relacionar formas e cores,
buscando encontrá-las na reprodução da imagem do
artista, possibilitará um aprofundamento do olhar sobre a obra
apresentada, como também da leitura dos diferentes elementos
visuais presentes na pintura. Esse trabalho poderá ainda ser
enriquecido com informações sobre a vida do artista
e de suas demais obras, com dados históricos interessantes e
acessíveis ao mundo infantil, com a discussão da importância
da visita às bienais (e a todo tipo de exposição)
onde são encontradas as obras originais dos artistas etc.
 Para ter fundamentos
para trabalhar a percepção da cor, da forma e da linha
na obra de Volpi, o professor poderá orientar-se pelos textos
mediadores (apresentados nos quadros à direita da proposta deste
percurso educativo), que fornecem algumas informações
sobre o processo de produção do artista e seu caminho
da observação à abstração. Para ter fundamentos
para trabalhar a percepção da cor, da forma e da linha
na obra de Volpi, o professor poderá orientar-se pelos textos
mediadores (apresentados nos quadros à direita da proposta deste
percurso educativo), que fornecem algumas informações
sobre o processo de produção do artista e seu caminho
da observação à abstração.
|
| |
|
6.
Da observação à abstração
Volpi
trabalhou na cidade de Sâo Paulo como pintor de paredes; adolescente,
pintava a �leo paisagens das redondezas da cidade. Como artista,
segue um percurso que vai da criaçâo de pinturas a partir da observaçâo
atë uma produçâo geomëtrica abstrata. Seu caminho ë similar ao dos
artistas que declararam a completa independència da arte em relaçâo
Ç representaçâo de modelos da natureza, movimento de depuraçâo da
visualidade que ocorre na Hist�ria da Arte europëia de Cëzanne
a Kandinsky e Mondrian. Mžrio Pedrosa comenta sua
sërie de fachadas, premiada na II Bienal de Sâo Paulo, em 1953:
"A estada de meses na Itžlia lhe abriu caminho para sua atual pintura
aparentemente primžria, mas na realidade fina no jogo dos meios-tons,
sensìvel de matëria, sžbia e moderna na manipulaçâo dos planos que
se justap§em com independència quase arquitet–nica, embora se conciliem
com a necesidade da figuraçâo em si mesma esquematizada das fachadas
das casas pobres. (...) O que hž de 'primitivo' no artista nâo ë
nenhuma intençâo de ingenuidade (...) ë antes a atitude espiritual
e estëtica que o faz, passando por cima dos altos nomes da Renascença,
preferir os pintores quase an–nimos que a precederam".
|
|
 |
| Cézanne
(Paul Cëzzanne, Aix-en-Provence, França, 1839 - id., 1906): artista
que influenciou diversos artistas modernos de destaque com sua atitude
de pesquisa formal, indicando caminhos que conduziram Ç abstraçâo.
|
|
 |
| Kandinsky
(Wassily Kandinsky, Moscou, Rössia, 1866 - Neuilli-sur-Seine, França,
1944): artista responsžvel pela criaçâo das primeiras obras nâo figurativas
dentro da tradiçâo da pintura europëia, realizadas em 1910, ano em
que escreveu o livro "Do espiritual na arte". |
|
 |
| Mondrian
(Piet Mondrian, Amersfoort, Holanda, 1872 - Nova York, Estados Unidos,
1944): este pintor percorreu um caminho significativo - da figuraçâo
Ç abstraçâo. Entre seus textos fundamentando os princìpios da arte
abstrata, destaca-se "O neoplasticismo", de 1925. |
|
| |
O olhar em construção
Será a partir
desse trabalho exploratório tátil/visual que o educador
poderá aprofundar as possibilidades de leitura visual das crianças,
incorporando ao repertório em análise a comparação
e a identificação dos elementos visuais presentes em outras
obras (figurativas ou abstratas) de Volpi, bem como em obras de diferentes
pintores também presentes nesta exposição (por
meio da visita à Bienal ou das vinte imagens de obras expostas
nesta XXIV Bienal que fazem parte do Material de Apoio Educativo).
 Novas perguntas
que despertem o interesse das crianças sobre as demais obras
da Bienal e que provoquem, ao mesmo tempo, reflexão sobre os
temas e os elementos da linguagem visual destacados por elas, ampliando
seu conhecimento da maneira como o artista cria, poderão
ser articuladas pelo educador a partir de questões como: "Será
que vocês vão encontrar em todas as pinturas desta mostra
os mesmos elementos visuais que vocês descobriram nas imagens
do Volpi?". Novas perguntas
que despertem o interesse das crianças sobre as demais obras
da Bienal e que provoquem, ao mesmo tempo, reflexão sobre os
temas e os elementos da linguagem visual destacados por elas, ampliando
seu conhecimento da maneira como o artista cria, poderão
ser articuladas pelo educador a partir de questões como: "Será
que vocês vão encontrar em todas as pinturas desta mostra
os mesmos elementos visuais que vocês descobriram nas imagens
do Volpi?".
|
| |
Somos todos artistas
Acredita-se que
todo percurso pode ser avaliado, não para qualificá-lo
de bom ou ruim, bonito ou feio, mas para valorizá-lo e interiorizá-lo
por uma reflexão final. O que deve guiar a avaliação
diz respeito tanto àquilo que foi aprendido quanto ao processo
individual e coletivo vivido pelas crianças. Sugere-se que o
educador lance mão de novas atividades propondo, por exemplo,
um painel que sintetize o caminho percorrido, um texto coletivo ou ainda
a construção de novas imagens que possam expressar aquilo
que foi vivido pelo grupo.
 A partir das respostas
das crianças, o professor poderá verificar se elas conseguem
perceber a presença dos elementos da linguagem visual nas obras
de Alfredo Volpi e se compreendem que são eles, arranjados num
espaço/suporte, que comunicam as idéias contidas no trabalho
do artista. Também poderá ver até que ponto elas
já estão aptas a comparar aspectos das obras desse artista
com aqueles presentes nas de outros artistas, percebendo o quanto a
forma e o conteúdo estão inter-relacionados. A partir das respostas
das crianças, o professor poderá verificar se elas conseguem
perceber a presença dos elementos da linguagem visual nas obras
de Alfredo Volpi e se compreendem que são eles, arranjados num
espaço/suporte, que comunicam as idéias contidas no trabalho
do artista. Também poderá ver até que ponto elas
já estão aptas a comparar aspectos das obras desse artista
com aqueles presentes nas de outros artistas, percebendo o quanto a
forma e o conteúdo estão inter-relacionados.
 Diferentes propostas
de avaliação ainda poderão ser programadas pelo
professor, tendo em vista que esses momentos significam sempre uma nova
oportunidade para a reflexão e fixação dos conteúdos
abordados. Por exemplo, pode-se solicitar às crianças
que destaquem, nas obras de outros artistas da Bienal, linhas, formas
e cores semelhantes, ou extremamente diferentes, daquelas utilizadas
por Alfredo Volpi, possibilitando, dessa maneira, que elas descubram
a singularidade do processo criativo de cada artista. A partir das indicações
gerais cada professor poderá elaborar a avaliação
mais de acordo com seu próprio modo de trabalhar. Diferentes propostas
de avaliação ainda poderão ser programadas pelo
professor, tendo em vista que esses momentos significam sempre uma nova
oportunidade para a reflexão e fixação dos conteúdos
abordados. Por exemplo, pode-se solicitar às crianças
que destaquem, nas obras de outros artistas da Bienal, linhas, formas
e cores semelhantes, ou extremamente diferentes, daquelas utilizadas
por Alfredo Volpi, possibilitando, dessa maneira, que elas descubram
a singularidade do processo criativo de cada artista. A partir das indicações
gerais cada professor poderá elaborar a avaliação
mais de acordo com seu próprio modo de trabalhar.
|
| |
|
8.
Cores
Volpi
declara a Kawall: "S� pinto Ç luz do sol. (...) Nâo uso pigmentos
industriais, que criam mofo, e que com o tempo as cores do quadro
perdem a vida". Segundo Kawall, Volpi "testa cada tinta. Se a cor
se altera, joga tudo fora. E se as cores permanecem alguns dias
bem fiëis, lž estž Volpi colorindo com pinceladas curtas e desordenadas
suas telas famosas. Ali estâo as cores preferidas de um dos maiores
coloristas da pintura mundial: roxo-terra, verde-esmeralda, azul-de-cerölio,
azul-ultramar, violeta-cobalto, vermelho e amarelo-cždmio". Em 1944,
Sërgio Milliet escreveu sobre o artista: "Ninguëm melhor do que
ele coloca uma nota vibrante vermelha ou amarela num öltimo plano
e aì a mantëm presa, com segurança, dentro de uma barreira sabida
de verdes frios pastosos ou terras amortecidos. Ninguëm melhor do
que ele baralha e abafa um primeiro plano em benefìcio da luminosidade
do segundo, contrariando com desenvoltura os cénones acadèmicos
da perspectiva aërea. Ninguëm melhor do que ele desobedece expressivamente
Çs regras aceitas. E isso pela razâo muito simples de que as conhece
bem. Hž muita malìcia nessa sua atitude e profunda consciència do
que se faz realmente necessžrio considerar na pintura" (A. Volpi,
"Grandes artistas").
|
|
 |
| Cânones
acadêmicos:
as normas de criaçâo adotadas como modelo para o ensino das artes
pelas academias, baseadas nos modos de criaçâo de artistas jž consagrados
pela sociedade ao longo do tempo. |
|
| |
Sugestões
de continuidade
 Estudar o percurso artístico de Volpi - da figuração
para a abstração -, realizando uma leitura comparada de
obras de diferentes períodos de sua carreira, encontradas na
visita à XXIV Bienal ou em catálogos sobre a obra do artista.
A obra "Xadrês branco e vermelho", reproduzida
em preto-e-branco no verso da imagem que acompanha este Material de
Apoio, pode ser utilizada para iniciar essa comparação.
Estudar o percurso artístico de Volpi - da figuração
para a abstração -, realizando uma leitura comparada de
obras de diferentes períodos de sua carreira, encontradas na
visita à XXIV Bienal ou em catálogos sobre a obra do artista.
A obra "Xadrês branco e vermelho", reproduzida
em preto-e-branco no verso da imagem que acompanha este Material de
Apoio, pode ser utilizada para iniciar essa comparação.
 Com o objetivo de
conhecer e analisar mais profundamente o percurso de produção
do artista, o educador poderá propor às crianças
que, ao observar as demais obras do pintor presentes na exposição,
tentem descobrir quais foram feitas antes e quais foram realizadas depois
da imagem que está sendo trabalhada. Esse tipo de exercício,
a ser realizado durante a visita à Bienal, e seus resultados
poderão ser organizados depois em um texto ou em um painel coletivo
que reorganize as impressões deixadas nas crianças. Com o objetivo de
conhecer e analisar mais profundamente o percurso de produção
do artista, o educador poderá propor às crianças
que, ao observar as demais obras do pintor presentes na exposição,
tentem descobrir quais foram feitas antes e quais foram realizadas depois
da imagem que está sendo trabalhada. Esse tipo de exercício,
a ser realizado durante a visita à Bienal, e seus resultados
poderão ser organizados depois em um texto ou em um painel coletivo
que reorganize as impressões deixadas nas crianças.
 A partir da experiência
vivida pela sugestão deste percurso educativo, o professor poderá
fazer cópias coloridas das demais imagens do conjunto do Material
de Apoio, criando outros jogos de fragmentos de obras para utilizar
com seus alunos. Procure selecionar fragmentos que permitam aos alunos
reconhecer os diversos elementos que constituem o texto visual. A partir da experiência
vivida pela sugestão deste percurso educativo, o professor poderá
fazer cópias coloridas das demais imagens do conjunto do Material
de Apoio, criando outros jogos de fragmentos de obras para utilizar
com seus alunos. Procure selecionar fragmentos que permitam aos alunos
reconhecer os diversos elementos que constituem o texto visual.
|
| |
|
9.
"Xadrês branco e vermelho"
Em
1957, Dëcio Pignatari escreveu um artigo relacionando Volpi ao Concretismo
em que fazia o seguinte comentžrio sobre sua obra "Xadrès branco
e vermelho": "A pura estrutura dinémica de seu extraordinžrio quadro
de xadrez branco e vermelho, em que um fen–meno de refraçâo, por
interferència de elementos (que se reconciliam no centro do quadro
retangular: incidència do olho), confere a um mesmo branco duas
qualidades diversas. Esta obra ë, exatamente, uma obra concretista,
e das mais estupendas, ainda que nâo interessa, provavelmente, saber
em que 'ismo' se enquadra sua obra". Frederico Morais diz que Volpi,
"intuitivo, foi desde cedo considerado um mestre pelos jovens de
1950. Desde que arrebatou, em 1953, (...) o prèmio da II Bienal
de Sâo Paulo. (...) Contra os modelos internacionais, Volpi surgia
para os integrantes do movimento como o önico exemplo de um concretismo
pict�rico puramente nacional. (...) Observaria com agudeza a polèmica
do momento, absorvendo-a e devolvendo-a em trabalhos de excepcional
concepçâo. Como no 'Xadrès branco e vermelho', 'Ladrilhos' e 'Bandeirinhas
verdes sobre fundo rosa', nos quais, sem qualquer preocupaçâo matemžtica
para a formulaçâo compositiva - formas sobre um plano chapado, estžtica
em aparència, neste perìodo -, ele consegue, atravës da pura intuiçâo,
unir o artesanal da execuçâo Ç construçâo mais rigoro a partir da
cor justaposta em economia mžxima de elementos" ("Projeto Construtivo
Brasileiro na Arte").
|
|
 |
| Concretismo:
movimento
artìstico iniciado em Sâo Paulo em 1956, com a publicaçâo do "Plano
piloto da poesia poncreta". Propunha afastar a criaçâo artìstica dos
significados subjetivos, concentrando-se nos elementos plžsticos puramente
formais (cor, linha, forma). |
|
 |
 |
 |
 |
Glossžrio
Frisos e florões: detalhes arquitetônicos das construções
em alvenaria do início do século, estas construções
empregavam em sua criação e manutenção uma vasta
gama de ofícios artesanais, supridos pela mão-de-obra dos
imigrantes europeus e pelo Liceu de Artes e Ofícios.
Gestalt: "teoria
da forma", doutrina que considera os fenômenos perceptivos
como conjuntos em que o todo determina a compreensão das partes.
Grupo Santa Helena:
grupo de artistas paulistas que se reunia no palacete Santa Helena, desenvolvendo
durante as décadas de 30 e 40 pinturas que retratavam cenas da
vida e da paisagem dos arredores de São Paulo.
"Ismo":
Pignatari refere-se aqui à obsessão de querer enquadrar
a produção de um artista dentro de determinado estilo para
conseguir compreendê-lo, rotulando a obra sem realmente olhar para
ela.
Têmpera-ovo:
técnica tradicional de pintura que usa a clara de ovo como aglutinante
(cola) para criar artesanalmente uma tinta opaca. As técnicas de
pintura são diferenciadas segundo o tipo de aglutinante utilizado:
a pintura a óleo usa o óleo de linhaça, a aquarela
a goma arábica etc.
|
|
Bibliografia
AMARAL, Aracy. Volpi: construção e reducionismo sob a luz
dos trópicos. "Catálogo da 24a Bienal de São Paulo",
1998.
AMARAL, Aracy (Org.). "Projeto Construtivo Brasileiro na Arte (1950
- 1962)" Rio de Janeiro/ São Paulo: Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro / Pinacoteca do Estado de São Paulo, 1977.
AMARANTE, Leonor. "As Bienais de São Paulo, 1951 - 1987".
São Paulo: Projeto, 1989.
ARAÚJO, Olívio Tavares de. Dois estudos sobre Volpi".
São Paulo: Ministério da Cultura/Funarte 1986. (Coleção
Contemporânea 2.)
KAWALL, Luis E. M. "Artes Reportagem". São Paulo: Centro
de Artes Novo Mundo, 1972
KLINTOWITZ, Jacob. "Volpi: 90 anos". São Paulo: SESC, 1989.
PEDROSA, Mário. "Mundo, homem, arte em crise". São
Paulo: Perspectiva, 1975.
ZANINI, Walter (Org.). "História geral da arte no Brasil".
São Paulo: Instituto Walter Moreira Salles, 1983.
Catálogos e
coleções
"Volpi, 89 anos".
Dan Galeria, 11/04/1985 à 30/01/1985.
"Volpi, 90 anos". Museu de Arte Moderna de São Paulo,
23/07/1986 à 20/08/1986.
"Grandes Artistas: A. Volpi". São Paulo: Art Editora
Ltda./Círculo do Livro, 1984.
Jornais e revistas:
"Jornal da Tarde",
13 abr. de 1986. Aracy Amaral: "A ceia de Volpi".
"O Estado de São Paulo". 31 maio 1988. Caderno 2. Sheila
Leirner: "Volpi Simplicidade, a sua grande sabedoria".
"Isto É - 10 anos". Volpi: os 90 anos do maior pintor
brasileiro. 23 jun. 1986.
"Arte & Educação em Revista Ano I". N. 1 Out.
1995, Porto Alegre: Rede Arte na Escola/Polo UFRG, p.27.
|